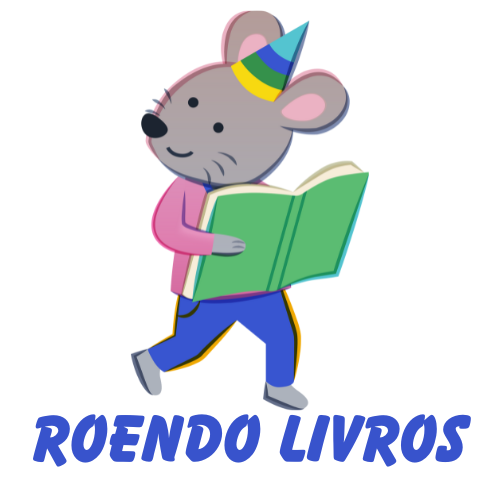O Romantismo, movimento artístico e literário que emergiu na Europa no final do século XVIII, representou uma profunda transformação na forma de expressão e nos valores culturais da época. Marcado pelo culto à emoção, à individualidade e à natureza, esse período rompeu com a rigidez do Classicismo, privilegiando a subjetividade e a liberdade criativa. No contexto brasileiro, o Romantismo assumiu um papel fundamental na construção da identidade nacional, refletindo aspirações de independência e exaltando as belezas e particularidades locais.
Caracterizado pelo sentimentalismo, pelo nacionalismo ufanista e pela idealização do amor e da mulher, o movimento romântico no Brasil desenvolveu-se em três gerações distintas, cada uma com suas ênfases temáticas e estilísticas. Desde a exaltação da pátria e dos heróis indígenas até a introspecção e o pessimismo da fase ultrarromântica, a literatura romântica brasileira não apenas acompanhou as mudanças sociais e políticas do país, mas também lançou as bases para a consolidação de uma produção literária autenticamente nacional.
Primeira Geração Romântica: Nacionalismo e Indianismo
A primeira geração do Romantismo brasileiro (c. 1836-1850) caracterizou-se pelo forte sentimento nacionalista e pela busca de elementos que pudessem definir uma identidade cultural própria. Neste período, destacam-se:
- Indianismo: idealização do indígena como símbolo de pureza e heroísmo nacional
- Nacionalismo ufanista: exaltação da pátria e de suas belezas naturais
- Sentimentalismo: emocionalidade exacerbada nas relações humanas
Os principais representantes desta fase foram Gonçalves Dias, com sua poesia indianista e nacionalista, especialmente em “Canção do Exílio”, e José de Alencar, que consolidou o romance indianista com obras como “O Guarani” e “Iracema”. A natureza brasileira foi elevada à categoria de personagem, servindo como pano de fundo para as narrativas que buscavam criar um passado heroico para a nação.
Segunda Geração: Mal do Século e Subjetivismo
A segunda geração romântica (c. 1850-1860), também conhecida como Ultrarromântica ou “Mal do Século”, marcou uma virada para a introspecção e o pessimismo. Caracterizou-se por:
- Egocentrismo: foco exacerbado no individualismo e no mundo interior
- Pessimismo e melancolia: temas como morte, solidão e desilusão amorosa
- Evasão: fuga da realidade através do sonho, da noite e do sobrenatural
Álvares de Azevedo emerge como principal expoente desta fase, com sua obra “Lira dos Vinte Anos” exemplificando o conflito entre ideal e realidade. Casimiro de Abreu, com seu saudosismo e linguagem mais simples, e Fagundes Varela, que transitou entre o ultrarromantismo e a poesia social, completam o quadro principal desta geração marcada pelo conflito existencial e pela angústia juvenil.
Terceira Geração: Condoreirismo e Poesia Social
A terceira geração romântica (c. 1860-1880), conhecida como Condoreira, representou uma significativa transformação temática e ideológica no movimento. Caracterizou-se por:
- Poesia social e engajada: abordagem de questões políticas e problemas sociais
- Abolicionismo: defesa fervorosa do fim da escravidão
- Republicanismo: crítica à monarquia e advocacy do sistema republicano
- Linguagem grandiloquente: metáforas ousadas e tom profético
Castro Alves, denominado “Poeta dos Escravos”, tornou-se a voz mais emblemática desta geração com obras como “Navio Negreiro” e “Vozes d’África”, onde denunciava as mazelas da escravidão com veemência e paixão. Sousândrade, com seu poema épico “O Guesa”, também se destacou pela linguagem inovadora e pela crítica social, antecipando características do simbolismo e do modernismo.
O Romance Urbano e Regionalista
Paralelamente ao desenvolvimento poético, o Romantismo brasileiro cultivou importantes vertentes na prosa:
- Romance urbano: retrato da sociedade carioca, com seus costumes e conflitos
- Romance regionalista: exploração das particularidades culturais de diferentes regiões
- Romance histórico: reconstrução ficcional de episódios da história nacional
José de Alencar, além de sua produção indianista, brilhou no romance urbano com “Senhora” e “Lucíola”, analisando as complexidades das relações amorosas e sociais na elite carioca. Manuel Antônio de Almeida trouxe inovação com “Memórias de um Sargento de Milícias”, obra que se distanciou dos padrões românticos ao retratar as camadas populares com humor e realismo.
Legado e Transição
O período romântico preparou o terreno para o Realismo-Naturalismo que se seguiria, estabelecendo:
- Consolidação do sistema literário nacional com autores e obras de referência
- Formulação de uma linguagem literária brasileira distinta da portuguesa
- Criação de mitos fundadores e símbolos nacionais através da literatura
- Profissionalização do escritor e ampliação do público leitor
Conclusão
O Romantismo brasileiro constituiu um movimento fundamental na formação de nossa identidade literária e cultural, estabelecendo as bases para uma produção artística autenticamente nacional. Através de suas três gerações distintas – do nacionalismo ufanista ao condoreirismo engajado – o movimento não apenas refletiu as transformações sociopolíticas do país no século XIX, mas também criou os símbolos e mitos fundadores que ainda permeiam nosso imaginário coletivo. A transição gradual do idealismo romântico para abordagens mais críticas e realistas demonstra a maturação de nossa literatura e sua capacidade de dialogar com os anseios e contradições da nação em construção.
Dicas de Estudo
Para compreender profundamente o Romantismo brasileiro, recomenda-se: 1) Estabelecer conexões entre as obras literárias e o contexto histórico do Segundo Reinado; 2) Comparar as três gerações românticas, identificando continuidades e rupturas temáticas e estilísticas; 3) Analisar como a construção da nacionalidade se articula com projetos políticos da época; 4) Prestar atenção especial à evolução da representação da mulher, do índio e do escravo ao longo das gerações; 5) Observar como José de Alencar sintetiza diversas vertentes do movimento em sua obra multifacetada.